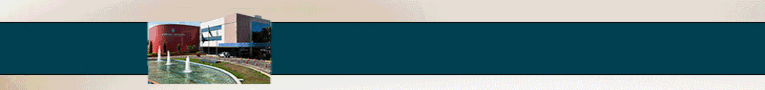Os regimes democráticos estão em crise ou é o conceito de democracia que está mudando?

MARINA SLHESSARENKO
No Brasil, respiramos aliviados com as eleições de 2022, que pareciam afastar as ameaças à democracia nacional. No entanto, vivemos sucessivas investidas antidemocráticas desde então. O toma-lá-dá-cá de Arthur Lira, as crises da segurança pública da Bahia e do Rio de Janeiro e a força renitente da extrema direita em certos estratos sociais não nos deixam pensar o contrário.
O autoritarismo não é prerrogativa exclusiva de presidentes ou instituições executivas; antes, ele se alastra pelos diversos poderes constituídos e pela base da sociedade, especialmente em momentos de grande transformação social. Essa constatação nos deixa com uma questão em mãos: afinal, a democracia – brasileira e em todo o mundo – está ou não em crise?
Desde a eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA, em 2016, diversos autores pareceram concluir que os regimes democráticos estavam com os dias contados. “Como as democracias morrem”, “Como a democracia chega ao fim” e outros tantos livros que saíram naquele momento arriscavam um epílogo lento mas inexorável desse tipo de governo.
Mas o desenrolar dos acontecimentos políticos pelo mundo gerou uma segunda leva de literatura sobre a “crise da democracia”. Essa nova onda de teorias e reflexões, contudo, não é homogênea.
Uma primeira corrente desacredita o movimento global de crise democrática e vê a onda autoritária como marolinha frente a democracias incrivelmente resilientes. Outra corrente, ao contrário, leva a sério os ataques em série realizados às democracias até o momento e assume a necessidade de reconstrução de um espólio democrático maculado por alpinistas da autocracia.
Resiliência democrática
Entre os partidários das democracias-mais-que-resilientes contra um suposto “alarmismo” da crise democrática estão os professores de Ciência Política da Universidade de Harvard Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que em 2018 lançaram “Como morrem as democracias” – em que analisam a escalada do autoritarismo pelo enfraquecimento lento e constante das instituições críticas, como o Judiciário e a Imprensa.
Eles acabam de lançar “Como salvar a democracia”- um novo livro sobre como lidar com estes tempos bicudos. Quase simultaneamente, Levitsky publicou ainda (junto com outro acadêmico, Lucan Way) um artigo sobre a “surpreendente resiliência da democracia”.
Chamam a atenção tanto a guinada social dos autores, se comparados os livros de 2018 e 2023, quanto a incongruência dos achados dos dois textos atuais. Se o artigo e o livro de 2023 fossem resenhados anonimamente, dificilmente se atribuiria a eles a mesma autoria, no caso, de Steven Levitsky.
No artigo, Levitsky e Way aderem a uma concepção minimalista de democracia com travas: uma concepção que se contenta com eleições periódicas e o direito à voto, fazendo vista grossa às inúmeras outras demandas para uma democracia forte.
Eles chegam à surpreendente conclusão de que, afinal, não estamos enfrentando uma crise global, já que as eleições continuam acontecendo em todo o mundo e autoritários convictos podem (raramente, mas não é impossível) ser derrotados pelos democratas. Para os autores, o problema maior seriam supostas percepções distorcidas sobre a saúde democrática: as pessoas colocariam crise onde não tem. A isso dou o nome de “negacionismo democrático”.
Já no livro, Levitsky, ao lado de Ziblatt, passa por um processo de ampliação de sua concepção de democracia. Democracia minimalista uma ova: o que os Estados Unidos precisam é de uma democracia que leve em conta as desigualdades aviltantes entre brancos e negros e caminhe em prol da multirracialidade.
Surpreende ler que os autores argumentam que a engrenagem que emperra a transição dos EUA a uma democracia multirracial está no caráter antimajoritário da Constituição. Se o problema que enxergam é eminentemente na base da cultura democrática, então como a Constituição pode ser o maior algoz? A isso dou o nome de alarmismo constitucional.
Tanto no artigo como no livro, o Brasil transita como um caso exemplar. No artigo, o país aparece elencado junto aos EUA para se fazer o argumento de que os ex-presidentes de extrema direita não foram reeleitos e, por isso, a democracia seguiria bem. Já no livro, as alusões ao país são pontuais e se limitam à constatação da representação distorcida que o Senado brasileiro promove e de seu papel de peso na arquitetura legislativa.
No prefácio da edição brasileira do livro, lançado recentemente pela Editora Zahar, os autores também admitem que o Brasil caminhou mais que os Estados Unidos para a responsabilização institucional dos desvarios autoritários que experimentamos nos últimos anos. Chegam a dizer que Jair Bolsonaro vem sendo politicamente marginalizado e que a “crise democrática dá sinais de ter sido em grande parte superada”, ao contrário do que se daria nos EUA. Por si só, esses comentários podem ser questionados, mas de fato ambos os termos da comparação desanimam.
Fica a gosto do leitor decidir qual posição dos autores escolher, a negacionista democrática ou a alarmista constitucional. Se quiser tentar conciliar ambas, terá desafios ainda maiores. Em todo caso, nenhuma delas passa incólume a um olhar mais atento.
Sem baixar a guarda
Otimismo contraintuitivo e contrafactual não falta. Basta olhar para a queda de braço entre o Congresso e o Judiciário, a morosidade da responsabilização política de Bolsonaro e seus correligionários, o travamento da agenda climática e os recentes descalabros na segurança pública – só para citar alguns incêndios recentes – para ver que não podemos baixar a guarda no Brasil.
No artigo, Levitsky e Way incorrem em um revisionismo político sorrateiro. Só porque Donald Trump e Jair Bolsonaro não foram reeleitos não significa que as democracias norte-americana e brasileira não tenham experimentado crises.
Os autores chegam até a afirmar que eles deixaram o cargo com a democracia “intacta”. Avaliar o sucesso ou o fracasso das práticas antidemocráticas com base em cálculos eleitorais mina o cerne da democracia e pressupõe uma negligência corrosiva aos movimentos civis de extrema direita e à incursão de suas agendas em arenas institucionais e sociais.
Mesmo que um número razoável de democracias não tenha escorregado para a autocracia, isso não significa que os riscos tenham desaparecido igualmente. Isso os autores ressalvam no final do texto, embora o construam sob as premissas negacionistas acima elencadas.
Já no livro, Levitsky e Ziblatt usam a Constituição norte-americana – que, de fato, é cheia de defeitos e silêncios eloquentes (como os autores mesmos dizem, ela garante o direito de portar armas, mas não o direito de votar) – como bode expiatório. Ela é a culpada pelas dinâmicas antidemocráticas dos Estados Unidos, seja por abrigar um Colégio Eleitoral ultrapassado (em pleno 2023, os EUA seguem elegendo presidentes por voto indireto) ou um Senado que sobrerrepresenta o eleitorado rural.
Seria a Constituição quem dá voz a franjas autoritárias que, não fossem ela, ficariam marginalizadas da política institucional. A partir dessa conclusão, os autores assumem uma estrada em linha reta que leva da reforma da Constituição à tão sonhada democracia multirracial. E isso está longe de ser tão simples.
É preciso uma cultura democrática arraigada, que ainda carece de (re)construção. Até porque, no fundo, a revolução não pode chegar só à raça, mas deve também chegar ao gênero, à sexualidade, às etnias dissonantes, e por aí vai — e, sobre isso, nenhuma palavra dos autores.
Daí porque a linha dos estudos sobre a reconstrução democrática é útil para analisar o cenário de hoje. Reconstruir envolve fortalecer uma cultura democrática de base e as instituições previamente atacadas, restituindo-lhes independência e autonomia em suas atribuições, e blindar o sistema eleitoral (o que vale em especial para os EUA, em que ele é estadual). Envolve, também, o que nos custou já no passado e custa agora: fazer uma justiça de transição e responsabilizar os próceres da autocracia que nos empurraram para a beira do abismo.
No Brasil, as instituições têm concentrado esforços para responsabilizar mandatários e executores materiais do 8 de janeiro. Resta ainda enorme espólio de mandantes intelectuais, financiadores e autoridades de Estado lenientes. E isso vai muito além de declarar Jair Bolsonaro inelegível por dois ciclos eleitorais.
Entre a crise e a normalidade, devemos apontar os rescaldos da crise para construir novas normalidades. Não é hora de baixar a guarda.
(*) MARINA SLHESSARENKO FRAIFE BARRETO é uma estudante de mestrado (bolsista CAPES), graduanda em Filosofia e bacharel em Direito (2020) pela USP, com período sanduíche na Ludwig-Maximilians-Universität de Munique (onde obteve o Zertifikat in den Grundzügen des Deutschen Rechts) e em dupla graduação com a Universidade Jean Moulin Lyon III. É pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT).
Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do site de notícias A e F News.
Reprodução